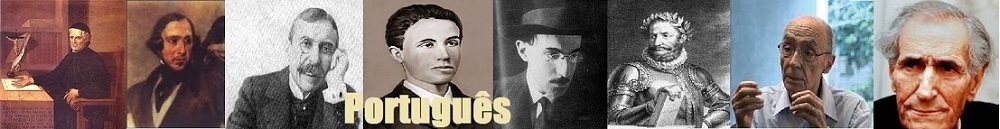Monólogo lírico-dramático de D. Madalena
● Assunto: monólogo de D. Madalena, em que esta estabelece um
paralelo/uma comparação entre a sua vida (desditosa) e a relação amorosa
infeliz e trágica de Inês de Castro e D. Pedro.
● Estrutura
do monólogo
. 1.ª
parte (do início da fala até “…
pode-se morrer.”): D. Madalena abandona a leitura d’Os Lusíadas e mostra-se
enleada na ideia de felicidade que bebeu no texto.
.
2.ª parte (de “Mas eu…” até ao final do
monólogo): D. Madalena reflete sobre a sua situação e revela o seu estado de
espírito, marcado pela angústia, pelo medo e “contínuos terrores”. O que marca
a divisão entre os dois momentos da cena é a conjunção coordenativa adversativa
«mas», que possui o valor de oposição, contraste.
●
Estado de espírito de D. Madalena:
. melancólica (“um livro aberto no regaço, e as mãos
cruzadas sobre ele”; “repetindo maquinalmente e devagar”), solitária (“só”),
infeliz;
. sonhadora: anseia experimentar a felicidade, nem
que seja por pouco tempo;
. sofredora e infeliz ao constatar a ausência de
felicidade na sua vida, devido ao medo e aos constantes terrores que a
atormentam;
. insegura, preocupada e angustiada, sente-se
destinada à morte;
. frágil, sensível e sentimental, bem ao gosto romântico;
. emocionalmente instável
. o seu nome evoca a figura bíblica da “pecadora”
(prostituta) que depois foi Santa Maria Madalena. As duas figuras – a imaginada
e a real – ficam ligadas, sobrepostas, e o caminho ascensional da personagem
bíblica, do pecado à redenção, através da penitência, traça a linha a percorrer
por D. Madalena: pecado → remorso → penitência → ascese → redenção.
Além destes traços psicológicos, trata-se de uma
mulher culta e letrada (está a ler, neste caso Os Lusíadas), pertencente
à aristocracia.
● Causa
do estado de espírito
Os
sentimentos e emoções evidenciados por D. Madalena ficam a dever-se (mesmo que só
o confirmemos num momento posterior da peça) ao receio de que o seu primeiro
marido ainda esteja vivo e regresso, cobrindo-se e à família de vergonha. A
leitura do episódio de Inês de Castro insinua-lhe o drama de um segundo
casamento, realizado sob a ameaça velada de que D. João não tivesse morrido.
● Relação
entre D. Madalena e Inês de Castro
. Madalena e Inês são duas personagens para quem a
felicidade não foi total, visto esta ter, em ambos os casos, sofrido a intervenção
do destino. A alegria e a felicidade de Inês de Castro foram breves, pois
terminaram com a sua morte. A interrupção da leitura feita por D. Madalena,
precisamente nos dois versos que sugerem a efemeridade desse sentimento, remete
para uma relação de semelhança entre os dois casos:
- D. Madalena
estabelece o confronto entre a situação de Inês, feliz “naquele ingano de alma
ledo e cego / que a Fortuna não deixa durar muito”, felicidade essa que, em seu
entender, não se mede pela duração, mas pela intensidade: “Viveu-se, pode-se
morrer”, e a sua situação em busca da felicidade própria, pelos contínuos terrores,
ou seja, pelos remorsos da consciência moral, recalcada e abafada, mas sempre
viva, atuante e martirizante;
- as imagens das
duas figuras femininas de pecadores por amor-paixão, embora diferentes,
sobrepõem-se e ajustam-se admiravelmente;
- Inês de Castro é
a heroína trágica no amor, na beleza, na desventura e na morte;
- D. Madalena é
igualmente trágica no amor, na beleza, na desventura, no desfecho infeliz e
trágico que a destrói: ambas são perseguidas pelo destino, inexorável e cruel,
que as irmanou na paixão impossível; ambas são infelizes no meio da ventura,
sendo que há uma diferença assinalável: Inês ainda teve um “ingano de alma”,
isto é, um momento fugaz de felicidade, ao passo que Madalena, mais consciente
talvez, nem esse breve “ingano” pôde ter.
. Porém, a reflexão posterior de D. Madalena permite
deduzir um certo contraste: esta deseja a felicidade, ainda que seja de curta
duração, após o que morreria feliz; constata que a sua vida tem sido assolada pela
desgraça, o que é visível no recurso à conjunção coordenativa adversativa “mas”
e à interjeição “Oh”.
. Esta analogia entre a vida de Inês e de Madalena
constitui um presságio trágico, se tivermos em conta que os amores daquela e de
D. Pedro terminaram tragicamente com a morte dela.
● Traços
românticos de D. Madalena:
. a sobreposição dos sentimentos à razão;
. o completo domínio da personagem pelas suas
emoções;
. o sentimento de culpa e de medo que a impedem de viver
plenamente a sua felicidade;
. o conflito interior que a sua fala deixa transparecer;
. a angústia, o medo e os terrores que marcam o seu
quotidiano;
. a grande paixão por Manuel de Sousa;
. a sensibilidade a cultura que demonstra;
. o uso de uma linguagem adequada ao real, ao estado
de espírito das personagens: o discurso de D. Madalena está repleto de
hesitações, repetições, frases curtas, suspensas, elípticas, exclamações e
reticências, o que reflete com precisão os estados de melancolia e introspeção
da personagem, os quais são igualmente elementos românticos;
. a leitura como refúgio.
● Recursos
expressivos
. Pontuação (reticências, exclamações, interrogações): revela o
estado emocional de D. Madalena, refletindo as suas hesitações e angústias.
. A enumeração, a gradação
crescente, realçada pela anteposição dos
adjetivos “contínuos” e “imensa”, as interrupções, as pausas e as repetições (“… o estado em que eu vivo… este medo, estes
contínuos terrores, que ainda me não deixaram gozar um só momento de toda a
imensa felicidade…”) contribuem para o adensar do estado de espírito da personagem,
marcado pela melancolia, angústia, medo, etc.
. A construção anafórica [“que o não saiba ele ao menos, que não suspeite (…)”;
“que amor, que felicidade… que desgraça (…)”], a repetição do determinante
demonstrativo “este”/”estes” (“este
medo, estes contínuos terrores”) traduzem igualmente o estado de espírito da
personagem.
. A antítese “que felicidade… que desgraça…” marca o contraste
entre o estado de felicidade que seria de esperar que vivesse e os contínuos
terrores que a assolam.
. Na cena, predominam os nomes
abstratos, que traduzem os sentimentos
que marcam a personagem.
. A cena contém um caráter
circular, dada a semelhança que existe
entre o seu início, onde encontramos Madalena em meditação, o que remete para
uma total prostração da personagem, e o seu final, em que volta a descair em
profunda meditação. Estes dois momentos foram interrompidos pela reflexão, pela
lamentação sobre a sua própria existência.
● Elementos
trágicos da cena
.
Hybris: está presente indiretamente,
já que o sofrimento (pathos) de D. Madalena advém da ousadia de ter casado segunda
vez sem ter encontrado o corpo do primeiro marido.
.
Pathos: é o causador do seu estado de
melancolia e de medo, o qual faz adivinhar a presença de um destino firme e inflexível, ao qual a personagem não se
poderá furtar, constituindo assim indícios de uma situação que se irá verificar
no futuro.
.
Presságio: a leitura do episódio de Inês
de Castro.
.
Agon de D. Madalena (de consciência): o monólogo-meditação
mostra a profundidade da luta que lhe vai na consciência, carregada de culpa, e
aponta para a dupla personalidade de Madalena:
- personalidade
aparente, feliz, ligada a Manuel de Sousa pelo amor-paixão;
- personalidade
real ou oculta, infeliz ou “desgraçada”, ligada a D. João de Portugal, pela
memória do passado, pelo remorso do presente.
Esta consciência atormentada de D. Madalena, em que
o remorso a não deixa repousar um só momento, remete para o seu conflito com o
primeiro esposo.