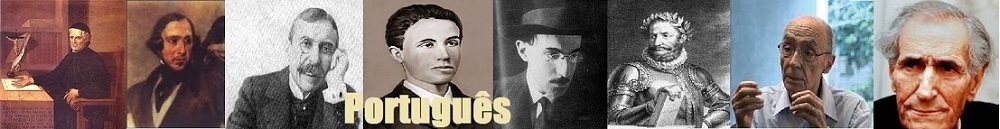1. Panorâmica de uma recepção interpretativa
Empenhado
política e culturalmente num processo de renovação do teatro nacional, com Um Auto de Gil Vicente (1838), Almeida
Garrett tinha fundado o teatro português moderno, ao gosto da nova estética
para o drama romântico. Cinco anos
volvidos apresenta a sua obra-prima teatral: Frei Luís de Sousa.
Várias
datas significativas rodeiam a apresentação e representação desta obra:
·
1843, 6 de Maio: apresentando publicamente, pela primeira vez, a peça, Garrett
lê uma Memória ao selecto auditório
do Conservatório Real. Nessa ocasião, procede à primeira leitura do seu mais
recente drama, apresentando explicações de natureza vária (sobre a génese da
obra, o seu estilo, o género literário, etc.).
·
1843, 19 de Maio: Garrett faz nova leitura da peça, na intimidade da casa da
sua amiga Maria Krus.
·
1843, 4 de Julho: em consequência da anterior leitura, o drama é apresentado,
pela primeira vez, no pequeno teatro particular da Quinta do Pinheiro; nesta
primeira representação, feita por actores amadores, o próprio Garrett desempenhou
o papel de Telmo Pais.
·
1844: é publicada a 1.ª edição, em livro, da peça (Lisboa, Imprensa Nacional,
cujo prefácio é datado de Dezembro de 1843)
.
·
1847: dá-se a primeira representação da peça no modesto Teatro do Salitre,
embora censurada, já que lhe fora amputada a última cena do Acto I, a fim de
“evitar complicações diplomáticas”.
·
1850, 24 de Fevereiro: ocorre a representação da peça no teatro Nacional D.
Maria II, instituição que Garrett ajudara a criar.
Entretanto,
fazia-se uma hábil divulgação da peça na imprensa do tempo, com disfarçados
auto-elogios do próprio autor e alguns ataques aos poderes de Costa Cabral que
obstaculizavam a sua representação nos teatros do Salitre (1847) e de D. Maria
II (1850).
2. Leituras críticas de Frei Luís
de Sousa
2.1. Leitura histórico-genética
Uma das
primeiras leituras críticas da peça relaciona-se com a indagação das suas fontes
históricas e literárias, isto é: onde se inspirou o dramaturgo para conceber o
enredo desta peça? Que relações tem a obra de ficção teatral com a realidade
histórica? Que obras terá lido para se informar sobre o assunto?
De facto,
Garrett inspirou-se num tema nacional, numa figura histórica para compor o seu
drama. Ao dramatizar a vida de Manuel de Sousa Coutinho, o dominicano Frei Luís
de Sousa, insigne historiador e prosador seiscentista, Garrett combina
habilmente informação histórica e ficção. Esta recriação estava prescrita,
aliás, pela teorização do drama romântico.
Na
Memória ao Conservatório Real, o próprio
Garrett enumerou as fontes que o influenciaram à escrita da obra, desde a
representação da “comédia famosa” do teatro ambulante, na Póvoa de Varzim, até
às fontes histórico-literárias mais ou menos recentes. Na livre composição da
sua ficção dramática, aproveitava o essencial de uma fábula trágica, mas
introduzia-lhe alterações justificáveis pela economia dramática e atmosfera
romântica. Não podendo ser escravo da cronologia, para Garrett, a
verdade dramática implicava uma
consciente alteração da
verdade histórica.
Além das
influências que Garrett confessa, há outras igualmente importantes que ele
conhecia, mas não menciona: 1.ª) o romance em prosa Manuel de Sousa Coutinho, de Paulo Midose, publicado n’O Panorama, em 1842; 2.ª) a comovente
lenda de Frei Luís de Sousa,
narrativa poética em rima oitava, do Romanceiro
de Inácio Pizarro de Morais Sarmento.
2.2. Leitura biográfico-psicológica: a
ficcionalização de um caso pessoal
Esta
perspectiva procura relacionar o conteúdo do drama garrettiano com as circunstâncias
da vida do autor, em particular com o caso
pessoal de Garrett.
Deste modo,
esta interpretação valoriza o drama íntimo da figura de D. Madalena, que amou
ilicitamente o segundo homem da sua vida, Manuel de Sousa Coutinho, estando
ainda casada com o primeiro. É precisamente este facto que atormenta a
consciência desta mulher, confessando-o dolorosamente ao velho Telmo Pais. O
regresso inesperado, mas sempre receado, do primeiro marido (D. João de
Portugal) desfaz a nova família, tornando ilegítima a filha desta relação
(Maria de Noronha). Sobretudo para D. Madalena, ao crime do adultério de pensamento, sucedeu o castigo da desagregação familiar, da morte da filha e da morte para
o mundo (solução religiosa, tipicamente romântica).
À luz de um
biografismo algo primário, este drama íntimo configuraria a projecção romântica
do caso pessoal do próprio dramaturgo. Separado da primeira esposa, Luísa
Midosi, mas casado com ela aos olhos da Igreja, Almeida Garrett conhecera e
mantivera uma relação com a jovem Adelaide Pastor, de quem tivera uma filha,
Maria Adelaide. Porém, esta mulher morrera inesperadamente em 1841, deixando o
escritor com uma filha ilegítima nos braços, face aos olhos da sociedade
conservadora do tempo. Quer na vida quer na ficção dramática, o inocente fruto
de uma relação pecaminosa seria objecto de marginalização social e condenação
moral.
Por
conseguinte, a aflitiva situação existencial, vivida nos dois anos que antecederam
a primeira apresentação da peça, teria alimentado a imaginação do dramaturgo
durante a composição da sua obra teatral, pretendendo com ela exorcizar
publicamente a sua culpa. É esta a posição de Teófilo Braga: “E Maria, a débil
criança, que morre de vergonha vendo que se separam os seus progenitores,
porque ainda está vivo o marido de sua mãe, surgia-lhe na mente, diante de sua
filhinha Maria Adelaide de pouco mais de dois anos, que lhe ficara desses
atormentados amores de Adelaide Deville, extinta aos vinte e dois anos. Esse
pressentimento realizou-se; porque D. Maria Adelaide na adolescência veio a
saber que D. Luísa Midosi, esposa de seu pai, estava viva em Paris, vindo a
confinar-se na vida doméstica com a vergonha do seu nascimento.”
Esta tese é
aprofundada por Costa Pimpão, para quem a história trágica de Frei Luís de
Sousa surgiria, deste modo, associada ao drama pessoal do próprio Garrett.
Assim se compreenderia o sacrifício final da jovem e inocente Maria de Noronha.
Com esta morte de dor e de vergonha antes da cerimónia religiosa, despertava-se
o terror e a piedade, e expiava-se a culpa dos seus progenitores, através da
noção cristã de pecado e respectivo remorso. Deste modo, a peça seria um apelo
patético a favor das inocentes vítimas da moral social, bem diversa da moral
cristã. Pensando na filha, Garrett teria procurado ganhar para Maria a piedosa
adesão dos espectadores. E essa seria, portanto, a personagem central.
No entanto,
são vários os perigos redutores e os inconvenientes desta perspectiva, até
porque as semelhanças entre a fábula dramática e uma dada fase da vida do autor
são dispensáveis à compreensão da obra.
2.3. Leitura religiosa: entre a angústia, a
revolta e a esperança cristã
Intimamente
relacionada com a interpretação precedente, está uma leitura religiosa e
metafísica. A fé católica e os seus princípios morais regem as consciências e a
actuação das personagens centrais do drama, família “honesta e temente a Deus”
(Memória ao Conservatório Real). Não faltam
os ícones e signos representativos da Divina Providência (a Palavra de Deus, a
Cruz ou a Igreja), nem o caso dos condes de Vimioso (que também entraram para a
vida conventual), várias vezes convocado com uma função pressagiadora do
próprio desfecho do drama. A enformar a tragédia estão pressupostos religiosos
característicos da vivência portuguesa de Seiscentos: a visão católica da
indissolubilidade matrimonial, o escrúpulo de consciências exigentes
atormentadas pelo remorso do pecado, mesmo só quando praticado em espírito.
Nesta
abordagem, destacam-se três ideias. A primeira diz respeito à angustiante consciência do pecado por
parte de D. Madalena, existente desde a primeira cena. Atormentada pelos
fantasmas do passado e pela sua consciência, D. Madalena vive em constante e
profunda ansiedade. Não só teme o regresso do primeiro marido, como se sente
uma mulher angustiada por ter amado ilicitamente o homem que viria a ser o seu
segundo esposo, estando ainda casada com o primeiro (consciência de adultério
em pensamento). Quem também a atormenta é Telmo Pais, quer quando conversa com
Maria sobre o passado e a esperança sebastianista, quer quando afronta a sua
ama, ousando dizer-lhe que Maria era digna “De nascer em melhor estado” (I, 2).
Mais tarde, é a própria Madalena que, na cena anterior à aparição do Romeiro,
confessa a Frei Jorge a razão da sua infelicidade que a sua consciência de
cristã se encarrega de lhe lembrar.
A segunda
ideia é a da desafiadora revolta de
Maria nos instantes que precedem a sua morte por tuberculose. Ela irrompe pela
Igreja de S. Paulo quando os seus pais se preparam para tomar o hábito,
morrendo para o mundo e abraçando a mortalha da vida religiosa e os novos nomes
(Frei Luís de Sousa e Sóror Madalena). Não a prepararam para tão duro golpe,
nem lhe perguntaram a opinião; apenas a confrontaram com aquele violento abandono.
Tenta ainda demovê-los de tão cruel resolução: “Esperai: aqui não morre ninguém
sem mim. Que quereis fazer? Que cerimónias são estas?” (III, 11).
É neste contexto
que surge a invectiva de Maria contra a falta de humanidade de um Deus
justiceiro e vingador que assim lhe rouba os pais: “Que Deus é esse que está
nesse altar e quer roubar o pai e a mãe a sua filha?” (Para os circunstantes.) Vós quem sois, espectros fatais?...
Quereis-mos tirar dos meus braços? Esta é a minha mãe, este é o meu pai. Que me
importa a mim com o outro?” (III, 11). O dramaturgo suscita assim a piedade
para a única vítima inocente. As razões e os valores religiosos, sobretudo a
indissolubilidade do casamento (ordem divina), vencem as razões do coração e o
fruto de uma união apaixonada (plano humano).
Por último,
cabe mencionar a resolução do casal (solução
religiosa), tomada decididamente por Manuel de Sousa e aceite por D.
Madalena. Acolhendo resignadamente os insondáveis desígnios de Deus, os dois
decidem entregar-se à divina Providência. Recordando à esposa o caso dos condes
de Vimioso, o marido é levado a reconhecer que a única solução (romântica) do
drama familiar reside na “sepultura de um claustro”.
O mesmo
sentimento de revolta de Maria fora momentaneamente partilhado pelo seu pai.
Com efeito, no início do derradeiro acto, aparece-nos um Manuel de Sousa
profundamente transtornado pela dor, invocando Deus na sua desgraça, dominado
apenas por um doloroso sentimento: a perdição da sua filha no “abismo da
vergonha”, vítima inocente do drama familiar. Recebe, então, os conselhos de
resignação e acatamento dos desígnios da divina Providência, por parte de Frei
Jorge, que lhe recomenda o abandono do mundo: “E Deus há-de levar em conta
essas amarguras. Já que te não pode apartar o cálix dos beiços, o que tu
padeces há-de ser descontado nela, há-de resgatar a culpa”. Deus velaria
paternalmente pelo seu pobre anjo: “Deus, Deus será o pai de tua filha” (III,
1). Fora, aliás, a própria mãe, momentos antes da cerimónia religiosa, que a
oferecera a Deus como uma espécie de cordeiro imolado para expiar o seu próprio
pecado. A filha desonrada e perdida tinha sido também o motivo da explosão de
dor perante a anagnórise incompleta
(II, 13).
Depois da
interrupção da cerimónia religiosa por Maria, a peça termina com um sentimento
misto de resignação e esperança cristãs: ser transitório, o homem confia
plenamente a sua existência na misericordiosa mão de Deus. Todos rezam pela
alma daquele anjo inocente que acaba
de falecer, comungando do sentimento expresso pelo celebrante dominicano: “Meus
irmãos, Deus aflige neste mundo àqueles que ama. A coroa de glória não se dá
senão no Céu” (III, 12). Ao pecado do adultério de pensamento e à ilicitude da
relação matrimonial, impõe-se a solução religiosa, como forma de repor a
desejada ordem moral – ao crime sucede a expiação, através da Cruz redentora.
Consuma-se, deste modo, a anunciada catástrofe do “duplo e tremendo suicídio” (Memória ao Conservatório Real): suicídio
moral dos esposos e morte física da vítima filha.
2.4. Leitura genológica: a discussão do
género
O Frei Luís de Sousa é um drama romântico
ou a renovação da tragédia antiga? A resposta é adiantada pelo próprio Garrett:
drama de índole trágica (hibridismo genológico).
Por um lado, Frei Luís de Sousa não respeita todos os
cânones poético-retóricos da tragédia clássica (assunto antigo, uso do verso ou
a divisão em cinco actos), sem deixar de ser uma “verdadeira tragédia”. Embora
optando por assunto português e relativamente moderno, a fábula é determinada
por leis superiores (religião e moral social), personagens de perfil trágico. O
leitor/espectador é ainda confrontado com a relativa observação da lei das três
unidades (acção, espaço e tempo). Por último, mencione-se o facto de o coro da
tragédia clássica ser desempenhado ora por Telmo, ora por Frei Jorge. Por
outro, inspirando-se em temática nacional e em circunstâncias biográficas
(ingredientes do drama moderno), a obra também não observa toda a moderna
estética do drama romântico, o que leva Garrett a observar: “Só peço que a não
julguem pelas leis que regem, ou vedem reger, essa composição de forma e índole
nova; porque a minha, se na forma desmerece da categoria, pela índole há-de
ficar pertencendo sempre ao antigo género trágico”.
A não
observância da rígida lei das três unidades da tragédia antiga é compensada
pelo aproveitamento de três procedimentos técnico-compositivos:
a) a
estrutura interna:
‑ exposição do
conflito (primeiras cenas do acto I);
‑ adensamento
e clímax dramáticos (até ao final do acto II);
‑ desenlace trágico (morte simbólica dos pais – profissão religiosa –
e morte física de Maria).
b) a
concentração dramática:
‑ da acção que, da exposição
inicial do conflito, caminha inexoravelmente para o adensamento trágico e
anagnórise gradual, até ao desenlace final;
‑ do tempo, que se vai
chegando gradualmente, até ao dia fatal de 4 de Agosto de 1599, vinte e um anos
depois da batalha de Alcácer Quibir;
‑ do espaço, que se vai
afunilando gradualmente até à austeridade do palácio de D. João de Portugal e
do retrato, e depois da capela onde decorre a celebração religiosa final na
sóbria igreja de S. Domingos;
c) o estilo e a arte do
diálogo: o estilo da peça caracteriza-se pela sobriedade lexical e pela
exploração de determinados recursos reveladores dos estados emocionais das
personagens (alusões, exclamações, reticências, interrogações, etc.); por outro
lado, Garrett adequa o estilo ao momento, perfil e ideologia de cada personagem
– nervoso e angustiado em D. Madalena; emocionado e inquiridor em Maria;
respeitoso e digno em Telmo; nobre e decidido em Manuel de Sousa.
Além disso,
os dois primeiros actos são de índole mais trágica, enquanto que o terceiro,
sobretudo com a melodramática morte de Maria, é mais sombrio e patético. Nos
dois primeiros, sobressai um clima crescente de medo, em que uma família é
ameaçada pelo pecado e ensombrada pela figura do ausente/presente D. João de
Portugal, encarnação de um Destino fatal; no terceiro, mais declamatório, é o
cristianismo romântico que impõe a morte de Maria, como uma espécie de
expiação.
Por
conseguinte, podemos concluir que o Frei
Luís de Sousa é formalmente um drama romântico, servido por um enredo nacional
de fundo trágico.
2.5. Leitura político-sociológica: relações
especulares
Tão
importante como o tempo da intriga recriado pela peça (finais do séc. XVI e início
do séc. XVII) é a época da escrita (década de 1840). Lida à luz do contexto em
que a obra foi escrita, apresentada e publicada, a peça configurar-se-ia como
uma censura mais ou menos velada e simbólica da situação político-social
portuguesa, das “violências palatino-cabralistas”, vividas sob o governo
conservador e autoritário de Costa Cabral.
Assim sendo,
não surpreende que a censura cabralista persiga a obra, amputando-lhe os actos
ou falas de bravura revolucionária diante da tirania castelhana (incêndio do
palácio de Manuel de Sousa Coutinho), argumentando com as consequências para as
relações diplomáticas entre os dois estados peninsulares. Aliás, terão sido as
ideias políticas mais revolucionárias de Garrett que, exonerado dos cargos
políticos ligados directamente à reforma do teatro português, impediram,
durante algum tempo, a representação do Frei
Luís de Sousa.
Almeida
Garrett terá, assim, explorado a similitude entre as duas épocas históricas: o
moderno autoritarismo cabralista (do séc. XIX), sob a aparência de um regime
liberalista, assemelha-se à despótica e opressora ocupação castelhana de finais
do séc. XVI. Neste sentido, a obra não deixa de ser uma crítica à política
vigente, ressaltando a revolta e sublevação de um homem (Manuel de Sousa)
contra a tirania de um regime imposto e em prol do elevado valor da liberdade e
da independência ideológica. O acto de Manuel de Sousa deve ser interpretado
como um significativo acto de vontade por parte de um homem que preza a
liberdade contra todas as formas de tirania.
2.6. Leitura psicocrítica e imagética: o
conflito e a psicologia profunda
Segundo esta
leitura, com a peça estaria em causa a dualidade do Homem, no seu conflito
entre o ser e o parecer, entre o Eu profundo e o Eu de superfície.
António José
Saraiva sustenta que Telmo, verdadeira personagem central do drama, simboliza a
alma profunda e fragmentada do autor, no seu conflito de fidelidades (o culto
sebástico e a crença no regresso de D. João, a par da profunda afeição por
Maria), de impossível harmonização.
O dramatismo
intensifica-se quando Telmo se consciencializa da passagem do tempo, dando-se
conta de que a antiga admiração por D. João, que vive apenas na sua “lembrança”,
é substituída por uma afeição bem real e viva por Maria. Mudam-se os tempos e
as circunstâncias, mudam os corações, e a convivência de sentimentos torna-se
impossível. Perante este dilema interior, o velho aio acaba por se transformar
no anunciador da “morte do impostor” (D. João). Essa morte do passado é-lhe
solicitada expressamente pelo antigo amo, mas esse pedido estava já entranhado
no perturbado coração de Telmo.
Resumidamente,
o Frei Luís de Sousa pode ser visto
como um drama do Eu. Telmo exprimiria
“a dor de não ser constante e inteiro no amor, a mágoa, a que se mistura algo
de remorso, de viver repartido entre duas afeições inconciliáveis, dois compromissos,
uma para com o passado (no caso de Telmo, a fidelidade a D. João) e outro para
com o presente (no caso de Telmo, a entranhada estima por Maria), que o leva a
desejar que o antigo amo nunca mais volte”.
Mário Garcia
visualiza em Telmo um conflito entre o Eu social, de aparências e disfarces, e
o Eu desvelado, profundo e verdadeiro. Manuel de Sousa, que incendeia heroicamente
o seu palácio, impelido pela honra, representaria “o contributo para a
regeneração espiritual de Garrett, através do sentido de paternidade”.
Para João
Mendes, Garrett viveu um inquestionável drama
da fidelidade entre um homem social, de aparências e máscaras, e um homem
sensível, íntimo e real. Ora, esse conflito de fidelidade é projectado nas
dramáticas figuras de D. Madalena e de Telmo, tendo sido esta última
interpretada pelo dramaturgo na primeira representação. A saída para o conflito
e divisão interior de Garrett residia no sacrifício de Manuel de Sousa: “Manuel
de Sousa é o Garrett ideal, como ele desejaria ter sido e nunca foi, por falta
de coragem”.
Segundo uma
leitura histórico-psicológica, Manuel de Sousa simbolizaria a reabilitação de
Almeida Garrett perante a sua filha Maria Adelaide e perante a sociedade.
Manuel de Sousa simbolizaria o Garrett romântico (tese), enquanto o Carlos das Viagens na Minha Terra configuraria o
homem devorado pelo amor-paixão (antítese), encontrando-se a síntese n’ As Folhas Caídas, entre Manuel de Sousa
e Carlos. O incêndio da casa e o permanente estado febril de Maria remetem para
a bivalência da imagem arquetípica do fogo:
ora significando a auto-expiação de Manuel de Sousa e “confissão” de Garrett;
ora a purificação do sangue, manifestada na febre da jovem Maria, fruto do
pecado de uma relação extra-conjugal. O incêndio depurador da paixão
prepararia, deste modo, o desfecho religioso do drama.
2.7. Leitura mítico-cultural: o
Sebastianismo e o destino português
Para Garrett,
desencantado com o rumo do país, ligado a um passado quinhentista, e vivendo à
sombra de uma pesada memória, o Portugal do séc. XIX só teria futuro se se
libertasse da nostalgia passadista.
As crenças no
sebastianismo eram sinónimo de passadismo, de estéril paragem do tempo. Regressar
ao passado é sinónimo de morte do presente e de sério comprometimento do
futuro.
A crença
sebástica é difundida por Telmo Pais. Amigo de Luís de Camões, ele acredita no
regresso de D. João, que acompanhara o jovem rei D. Sebastião à nefasta batalha
de Alcácer Quibir. Ao comunicar estas crenças à jovem e influenciável Maria,
Telmo desperta gradualmente o terror em D. Madalena, logo a partir da cena II
do acto I. Estas referências ao sebastianismo prosseguem ao longo de toda a
obra, o que só serve para acentuar o desespero de Madalena.
Por outro
lado, de acordo com a didascália que antecede o acto II, destacavam-se, no
palácio de D. João, pela sua singular localização, os retratos de D. Sebastião,
Camões e D. João de Portugal, que merecem a atenção de Maria.
Reactualizando
comicamente o sebastianismo, Garrett concebe-o, no Frei Luís de Sousa, à luz da tradição sebástica, como o mito
imperial que deu corpo à nostalgia de uma idade de ouro. Com a perda do jovem
monarca, Portugal afunda-se numa época de inércia e de brumas, à espera de um
refundador e heróico rei-salvador, sobretudo em momentos de profunda crise
política.
Por
conseguinte, nesta abordagem crítica, na peça de Garrett, mais do que personagens
de um drama familiar, temos seres simbólicos, representativos do destino
colectivo português, num dado momento da sua história. Neste contexto, uma
última leitura situa-se ao nível mitológico, recuperando o significado dos
temas da saudade e do sebastianismo. D. Sebastião seria, assim, a anunciada
“maravilha fatal da nossa idade” (Camões) e dos tempos futuros.
Para Garrett,
o sebastianismo constituía o mito da nossa decadência. Portugal renegava, por
um mito, a realidade; morria para a história, apático e desfeito em sonho; envolvia-se,
para entrar no sepulcro, na mortalha de uma esperança messiânica. O
sebastianismo era o mito da nossa fraqueza e compensação, da nossa fuga da
realidade; é um refúgio para a realidade dos acontecimentos; é uma afirmação de
esperança nacionalista, de fé patriótica em épocas de profunda crise política,
como a da perda da independência. Será isso que Garrett transmitiu na peça: um
choro de aflições tristes, uma resignação heroicamente passiva, uma esperança
vaga, etérea, na imaginação de uma rapariga tísica e no tresvario de um
escudeiro sebastianista.
Maria de
Lourdes Vieira considera que o mito do Encoberto (tratado desde o Bandarra até
à Mensagem de Pessoa) é
perspectivado, negativamente, como sinónimo de paragem no tempo, de
irrealidade, de sacrifício do herói na catástrofe final. O regresso do (falso)
D. Sebastião, na figura de D. João, implica a alteração do rumo da história e o
aniquilamento. Por isso, diante do espelho do seu retrato, o representante do
Portugal morto e sebástico se define como Ninguém.
O Portugal do futuro não pode alimentar-se de estéreis utopias passadistas.
Podemos assim
dizer que o incêndio do palácio de Manuel de Sousa, além de acto de
patriotismo, simboliza a resoluta busca de uma nova ordem e novo espaço para
uma família assombrada pelo passado, isto é, uma nação que vivia à sombra de
mitos, sonhos ou utopias. O regresso ao velho palácio de D. João representa um
anacrónico e impossível regresso ao trágico ao passado. A História não pode
regredir e imobilizar-se num pretérito mítico. O Portugal moderno tem de,
edipianamente, matar o velho pai para mudar o rumo da sua história, nem que
para isso tenha que sacrificar a própria vida, como fez Manuel de Sousa.
Para Eduardo
Lourenço, Frei Luís de Sousa será a
representação da tragédia colectiva de um povo. O drama reflete sobre Portugal
num momento em que ele se interroga pela boca de Garrett. É um país que vive um
presente hipotecado, à sombra de um sentimento de saudade passadista e
sebastianista. Neste sentido, é uma peça assombrada por dois fantasmas – um
quase fantasma (D. João) e um fantasma mítico (D. Sebastião). O simbolismo
alegórico que une os dois personagens está bem representado no nome do
primeiro: o primeiro nome (D. João) remete-nos para alguns monarcas da História
de Portugal; e no sobrenome (de Portugal) está cristalizado o próprio nome da
Nação, num momento crucial da sua História. É preciso matar ou exorcizar o
passado, para que Portugal possa ter futuro.
Deste modo,
estaremos perante uma culpa metafísica,
personificada em D. João, a figura que simboliza um Portugal sem presente,
sonâmbulo e doente de sebastianismo. Nesta ordem de ideias, a regeneradora
Maria representa o sacrifício necessário para exorcizar os fantasmas do passado
e definir o futuro de Portugal. Só assim teria sentido o absurdo castigo-expiação de Maria, culpada de não ter culpa, que morre,
romanticamente, de excesso e de vontade.
Esta
problematização do modo de ser português será, portanto, feita a partir do
duplo e simbólico espaço da casa-palácio e da igreja-convento. O drama de
Garrett é fundamentalmente a teatralização de Portugal como povo que só já tem ser imaginário (ou mesmo
fantasmático) – realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na História,
objecto de saudades impotentes ou pressentimentos trágicos.
Neste
sentido, o conflito particular ou o drama humano e familiar da peça mais não é
do que uma metáfora do nosso devir colectivo: “Quem responde pela boca de D.
João, definindo-se como ninguém, não
é um mero marido ressuscitado fora de estação, é a própria Pátria. O único
gesto redentor do seu herói (Manuel
de Sousa) é deitar fogo ao palácio e enterrar-se fora do mundo, da História.
Por
conseguinte, pela boca do Romeiro, fantasma de um outro fantasma (D. Sebastião),
é Portugal inteiro que se auto-interroga, olhando no espelho da sua identidade
e não se encontrando. O velho Portugal já não se revê na nova ordem
estabelecida, nem é facilmente reconhecido pelos seus mais fiéis seguidores
(Telmo Pais). Portugal desapareceu em Alcácer Quibir, perdeu irremediavelmente
a sua identidade, até à sua refundação em 1640. O Portugal heróico, aventureiro
e cavaleiresco estava definitivamente defunto. Dessa morte simbólica, que
implicou o sacrifício de vidas mais ou menos inocentes nascia um Portugal novo.
Sintetizando
as várias perspectivas críticas:
|
Interpretações
|
Ideias
nucleares
|
|
1.
Leitura histórico-ge-nética
|
. Fontes histórico-literárias da peça, reconhecidas
pelo autor ou omitidas;
. Recriação ficcional de assunto histórico: tradição
+ imaginação dramática.
|
|
2.
Leitura biográfico-psicológica
|
. Encenação do caso pessoal de Garrett, com base nas
significativas coincidências entre a situação biográfica e o enredo dramático
da obra.
|
|
3.
Leitura religiosa e metafísica
|
. Da consciência do pecado (D. Madalena), à
desafiadora revolta (Maria) e ao sacrifício à esperança cristã (tomada de
hábito do casal).
|
|
4.
Leitura genológica e arquitextual
|
. Classificação quanto ao género: drama ou tragédia?
. Tragédia de destino, de assunto moderno; drama
romântico, de fundo trágico.
|
|
5.
Leitura político-soci-ológica
|
. Homologias entre a decadência quinhentista e o
autoritarismo agiota cabralista.
. Crítica velada ao rumo da política portuguesa sob o
governo de Costa Cabral.
|
|
6.
Leitura psicocrítica e imagética
|
. Drama interior de Telmo e D. Madalena, divididos
entre duas fidelidades.
. Numa imagética do fogo, Manuel de Sousa Coutinho seria o Garrett ideal.
|
|
7.
Leitura mítico-cultural
|
. Enterro simbólico do sebastianismo no seu
fantasmático representante (D. João).
. Interrogação psicanalítica de Portugal: a
fragilidade ôntica da pátria portuguesa.
|
Bibliografia:
. http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/zips/candid12.rtf